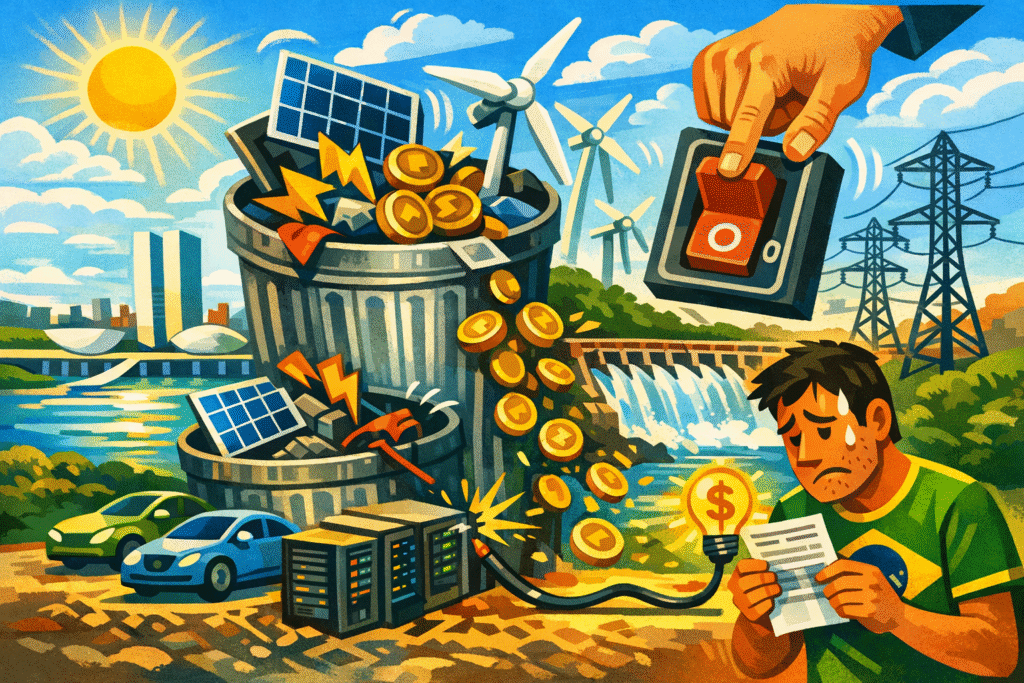Gilmar Mendes retirou de pauta a decisão que restringia pedidos de impeachment contra ministros do STF e suspendeu trechos da própria liminar. A mudança não é coincidência. Sete ministros se posicionaram contra a decisão original do colega. O recuo aconteceu porque a blindagem completa não passaria em votação.
A decisão inicial de Gilmar criou um problema maior que a suposta solução. Ao restringir os pedidos apenas ao Procurador-Geral da República, ele concentrou poder demais nas mãos de Paulo Gonet. O detalhe que incomodou outros ministros: Gonet foi sócio de Gilmar no Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).
O presidente do STF, Edson Fachin, liderou as negociações para o recuo. A solução intermediária foi negociada diretamente com o Senado Federal. Davi Alcolumbre havia criticado a decisão por usurpar competências do legislativo. O acordo prevê que o Congresso vote a nova lei de impeachment em troca da suspensão da liminar.
Hoje qualquer cidadão pode protocolar pedido de impeachment contra ministros. Existem 45 pedidos contra Alexandre de Moraes tramitando no Senado. Com a mudança de Gilmar, apenas o PGR teria essa prerrogativa. Um pedido do PGR teria peso muito maior que os atuais.
A resistência interna que forçou o recuo de Gilmar
A decisão de Gilmar Mendes não teve apoio interno no STF. Apenas Flávio Dino e Cristiano Zanin sinalizaram concordância com a medida. Os outros sete ministros ficaram contra a blindagem completa. Quatro disseram claramente que não aprovariam a decisão em plenário.
O problema central era a concentração de poder. Gilmar transformou Paulo Gonet no único porteiro dos pedidos de impeachment. A proximidade entre ambos criou desconforto entre os colegas. Gonet vendeu suas cotas do IDP para o filho de Gilmar, mas mantém relação próxima com o ministro.
Os outros ministros perceberam o risco dessa concentração. Se apenas o PGR pode pedir impeachment, cada pedido ganha importância desproporcional. Um ministro que desagradasse Gilmar poderia sofrer retaliação através de Gonet. O sistema criava um poder de chantagem interno.
Fachin assumiu a articulação política para reverter a situação. Como presidente do STF, ele negociou diretamente com Alcolumbre. O acordo permite que o Senado mantenha protagonismo na questão do impeachment. A decisão de Gilmar seria mantida apenas até a aprovação da nova lei.
A pressão da opinião pública também pesou na decisão. A blindagem completa gerou críticas de parlamentares e jornalistas. O timing da decisão, logo após as polêmicas envolvendo o STF, tornou a medida ainda mais mal vista. A imagem da corte estava em jogo.
A lei do impeachment que nasceu para derrubar Bolsonaro
O projeto que deve ser votado tem origem peculiar. Foi elaborado em 2022 por um grupo coordenado pelo então ministro Ricardo Lewandowski. O objetivo era facilitar o impeachment de Jair Bolsonaro caso ele vencesse as eleições. A lei chegou a prever crimes de responsabilidade relacionados ao negacionismo.
O projeto estabelece prazo de 30 dias para o presidente da Casa decidir sobre pedidos de impeachment. Hoje, Hugo Mota na Câmara e Alcolumbre no Senado podem engavetar indefinidamente esses pedidos. Eles não decidem nem sim nem não para evitar recursos ao plenário.
A nova lei criaria obrigação de manifestação. Se o presidente da Casa rejeitar o pedido, os parlamentares podem recorrer ao plenário. O sistema atual permite que dezenas de pedidos fiquem sem resposta por anos. Existe uma pilha de pedidos contra Lula que nunca foram apreciados.
O projeto mantém algumas facilidades para o impeachment. Além do prazo obrigatório, amplia o rol de legitimados para fazer os pedidos. Partidos políticos, sindicatos e abaixo-assinados populares podem protocolar impeachments. É um meio termo entre a situação atual e a blindagem que Gilmar tentou criar.
A ironia é evidente: a lei feita para derrubar Bolsonaro pode facilitar impeachments no governo Lula. Os articuladores da proposta não imaginavam que ela seria aprovada com outro presidente. O tiro pode sair pela culatra para quem a concebeu.
O novo critério de 2/3 que permanece em vigor
Gilmar manteve uma mudança importante: o quórum para iniciar impeachment passou de maioria simples para 2/3 do Senado. Antes, bastavam 21 senadores presentes votando a favor. Agora são necessários 54 votos dos 81 senadores. A diferença é significativa na prática política.
A mudança cria uma distorção curiosa. Para indicar um ministro ao STF, o Senado precisa de 41 votos (maioria absoluta). Para tirar esse mesmo ministro do cargo, agora precisa de 54 votos. É mais difícil remover um ministro do que aprová-lo inicialmente.
O critério não tem base constitucional clara. A Constituição estabelece competência do Senado para o impeachment, mas não define o quórum específico. A lei atual previa maioria simples, que Gilmar considerou inadequada. Ele legislou por conta própria para criar o novo critério.
A medida beneficia claramente os atuais ministros. Com a polarização política atual, conseguir 54 votos é tarefa muito mais complexa. Mesmo em casos graves, a articulação política necessária se torna quase impossível. É uma blindagem parcial disfarçada de critério técnico.
A permanência desse critério mostra que o recuo foi apenas parcial. Gilmar cedeu na questão do PGR, mas manteve a proteção do quórum elevado. O acordo com Fachin preservou a parte que mais interessa aos ministros: a dificuldade prática para removê-los.
Por que partidos não farão pedidos de impeachment
A nova lei permite que partidos políticos peçam impeachment de ministros. Na prática, essa possibilidade é ilusória. Nenhum partido quer se indispor diretamente com o STF. As retaliações são certas e imediatas contra quem desafiar a corte.
O sistema político brasileiro depende das decisões do STF. Partidos têm ações em tramitação na corte constantemente. Um pedido de impeachment seria suicídio político para a legenda. Os ministros têm instrumentos para punir partidos que os incomodem.
A alternativa seriam sindicatos ou entidades da sociedade civil. Algumas organizações de direita poderiam protocolar pedidos sem o mesmo risco que partidos enfrentam. Sindicatos têm menos a perder em eventual retaliação do STF.
O abaixo-assinado popular também é opção viável. Com o critério de 1% dos eleitores, seria necessário reunir cerca de 1,5 milhão de assinaturas. É número alto, mas possível em casos de grande mobilização popular contra algum ministro específico.
O problema continua sendo o quórum de 2/3 no Senado. Mesmo com pedido protocolado e tramitando, conseguir 54 votos permanece quase impossível. A blindagem real não está em quem pode pedir, mas em quantos votos são necessários para aprovar.
O acordo Fachin-Alcolumbre que selou o recuo
Edson Fachin assumiu o protagonismo para resolver a crise interna. Como presidente do STF, ele negociou diretamente com Davi Alcolumbre para encontrar uma saída. O acordo beneficia ambas as instituições e preserva as aparências democráticas.
Alcolumbre havia criticado duramente a decisão de Gilmar. O argumento era sólido: o STF havia usurpado competência do Legislativo. A nova lei de impeachment devolve ao Congresso o papel de definir as regras do processo. É uma vitória política para o Senado.
O calendário favorece o acordo. A lei já passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A votação em plenário deve acontecer rapidamente, possivelmente ainda em dezembro. Depois seguirá para a Câmara, onde a aprovação também é esperada para 2025.
Fachin conseguiu o melhor dos mundos. Evitou o desgaste de uma blindagem explícita, manteve o quórum elevado e ainda transferiu a responsabilidade para o Congresso. Se a nova lei for criticada, a culpa será dos parlamentares, não do STF.
O acordo mostra como funciona a política brasileira. As instituições negociam entre si, longe do debate público. O recuo de Gilmar foi apresentado como diálogo democrático. Na verdade, foi apenas ajuste tático para preservar interesses mútuos.
As consequências práticas para futuros impeachments
A situação final cria um sistema híbrido. Mais pessoas podem pedir impeachment que na proposta original de Gilmar, mas menos que no modelo atual. O quórum elevado permanece como principal obstáculo para aprovação dos pedidos.
Para Alexandre de Moraes, alvo de 45 pedidos atuais, pouco muda na prática. Os pedidos existentes seguem engavetados por Alcolumbre. Os novos pedidos terão legitimidade mais restrita, mas continuarão dependendo da vontade política do Senado para avançar.
A obrigação de decidir em 30 dias pode ser alterada na tramitação. É provável que deputados e senadores retirem esse prazo da versão final. Ninguém quer ter a obrigação de se posicionar sobre impeachments polêmicos. A pressão atual vai na direção de manter o sistema de engavetamento.
Um sindicato ou entidade que protocole pedido fundamentado pode ter mais sucesso. A legitimidade técnica seria maior que os atuais pedidos individuais. Mas o resultado final continua dependendo da correlação de forças políticas no Congresso.
A real mudança é simbólica. O STF recuou de uma blindagem explícita, mas manteve proteção efetiva através do quórum. A impressão de normalidade democrática foi preservada. O sistema funciona para manter as aparências enquanto protege quem importa.
O episódio revela como as instituições brasileiras operam na prática. Decisões são tomadas e revertidas conforme a conveniência política. O recuo de Gilmar não representa vitória da democracia. É apenas ajuste tático de um sistema que se protege acima de tudo.
A nova lei do impeachment nasceu para derrubar Bolsonaro, mas pode acabar sendo usada contra Lula. A ironia da história política brasileira está em criar instrumentos que podem voltar contra quem os concebeu.
Resta saber se a sociedade brasileira compreenderá o jogo de cena. O recuo foi vendido como diálogo institucional, mas na prática manteve a blindagem essencial. E você, acredita que essa mudança realmente fortalece a democracia ou é apenas maquiagem política?