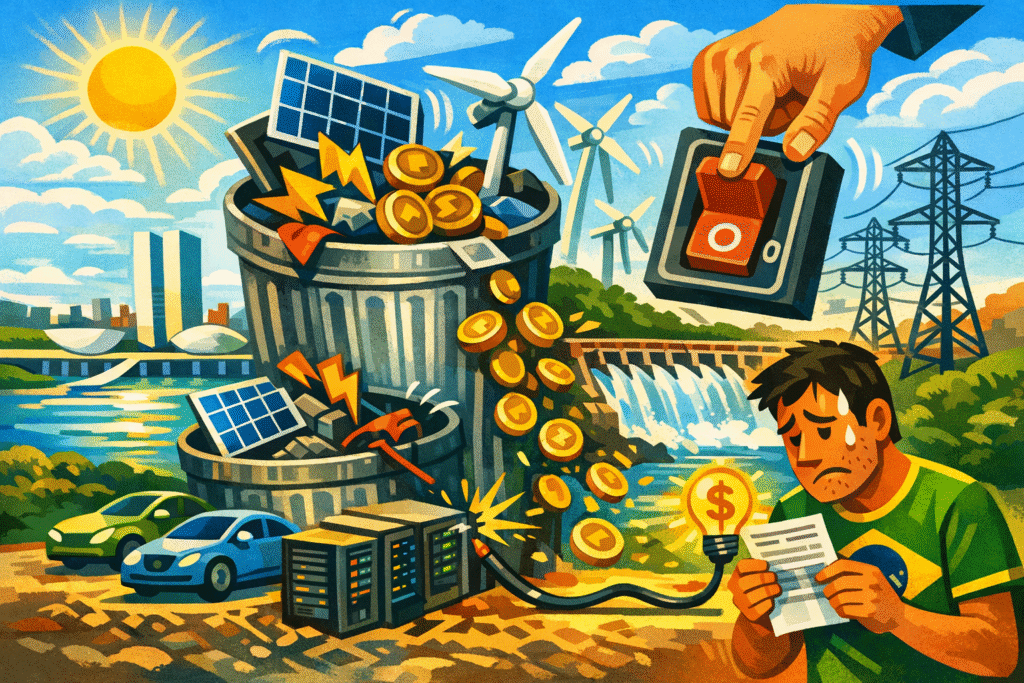Em 3 de dezembro de 2024, o ministro Gilmar Mendes tomou uma decisão que mudou para sempre o equilíbrio de poderes no Brasil. Em uma única canetada, ele alterou as regras de impeachment dos ministros do STF. O que antes exigia maioria simples no Senado agora precisa de dois terços. Cidadãos comuns perderam o direito de pedir impeachment. Agora só a Procuradoria-Geral da República pode fazer isso.
A decisão veio através da ADPF 1259, uma ação que reinterpretou a Lei de 1950. Essa lei garantia que qualquer cidadão pudesse denunciar ministros por crime de responsabilidade. Era um instrumento básico de controle democrático. Gilmar Mendes decidiu que essa lei “envelheceu mal” depois de 74 anos.
O timing não foi coincidência. A mudança aconteceu bem no meio da indicação de Jorge Messias para o STF. Segundo a jornalista Andrea Sadi, o ministro estava “desarmando uma bomba” contra um possível “golpe parlamentar” em 2027. Traduzindo: ele temia que um Senado renovado pudesse usar o impeachment contra os ministros.
Para Gilmar Mendes, democracia funcionando é golpe parlamentar. O povo elegendo uma maioria que desagrada ao STF virou ameaça institucional. É a inversão completa da lógica republicana, onde o poder deveria emanar do povo.
As novas regras que blindam o Supremo
A decisão de Gilmar Mendes mudou três pontos cruciais no processo de impeachment. Primeiro, eliminou o direito de qualquer cidadão pedir impeachment de ministros. Agora só o Procurador-Geral da República pode fazer isso. É como se você perdesse o direito de denunciar crimes porque apenas o delegado pode investigar.
Segundo, o quórum no Senado subiu de maioria simples para dois terços. Antes bastavam 41 senadores dos 81. Agora são necessários 54 votos. A conta é simples: ficou quase impossível tirar um ministro do cargo. É mais fácil aprovar emenda à Constituição do que remover um ministro por abuso de poder.
Terceiro, o afastamento imediato após abertura do processo também foi eliminado. Antes, quando o impeachment era aceito, o ministro saía temporariamente até o julgamento final. Agora ele fica no cargo, julgando processos e tomando decisões mesmo sendo investigado.
A mudança mais perigosa foi sobre os motivos do impeachment. Segundo a nova interpretação, decisões judiciais controversas não justificam mais impeachment. Só corrupção grave ou crimes comuns. Ou seja, um ministro pode rasgar a Constituição, inventar leis e não acontece nada. A impunidade virou regra.
O PGR que decidirá tudo é ex-sócio de Gilmar
Paulo Gonet, atual Procurador-Geral da República, é figura central nesse esquema. Ele foi reconduzido ao cargo e ficará até 2027, justamente quando pode haver pressão por impeachment. Coincidentemente, Gonet tem ligações históricas com Gilmar Mendes.
Os dois foram sócios no Instituto de Direito Público (IDP). Gonet vendeu sua participação na empresa para o filho de Gilmar Mendes por 2 milhões de reais. Agora, quem decide se um pedido de impeachment vai adiante é o ex-sócio do ministro que criou as novas regras. É o conflito de interesses institucionalizado.
Após o anúncio da decisão, Gonet saiu em defesa do ex-sócio. Defendeu publicamente que apenas a PGR deveria ter poder para pedir impeachment de ministros. É como se o único delegado autorizado a investigar crimes fosse amigo pessoal do suspeito.
A blindagem está completa. O STF não pode mais ser investigado pelo Senado. O Senado não pode mais investigar o STF. O equilíbrio foi quebrado e substituído por impunidade mútua. Quem ganha com isso certamente não é o cidadão comum.
Senadores governistas acordaram tarde demais
A reação mais surpreendente veio dos próprios aliados do governo Lula. Senadores que sempre defenderam o ativismo do STF contra Bolsonaro ficaram chocados. De repente perceberam que criaram um monstro que não voltaria para a caixinha.
Senadores governistas subiram na tribuna para criticar a decisão. Falaram em violação à Constituição e desrespeito à separação de poderes. O mesmo pessoal que aplaudia quando o STF prendia bolsonaristas agora gritava contra usurpação de poder. Hipocrisia ou medo genuíno?
A verdade é que eles entenderam o tamanho do problema. Um Supremo sem freios constitucionais não ameaça apenas a oposição. Hoje persegue bolsonaristas, amanhã pode perseguir petistas. Poder absoluto não tem lado político. Tem apenas sede de mais poder.
O presidente do Senado, emitiu nota técnica criticando a decisão. Disse que apenas o Congresso pode alterar leis, não o Judiciário. Foi uma crítica educada demais para o tamanho da afronta. Era caso para impeachment imediato, não para carta de repúdio.
O timing perfeito para o golpe judicial
A decisão não aconteceu por acaso em dezembro de 2025. Estamos a um ano das eleições de 2026, que renovarão parte do Senado em 2027. Gilmar Mendes calculou que senadores eleitos com bandeira anti-STF poderiam criar problemas. Decidiu cortar o mal pela raiz.
A própria Andrea Sadi confirmou que ministros vinham conversando com senadores sobre o assunto há meses. Sabiam exatamente quais senadores defendiam impeachment de ministros. Era uma lista de “inimigos” que precisava ser neutralizada antes das eleições.
Jorge Messias, indicado de Lula para o STF, chegou a mandar ofício pedindo para Gilmar rever a decisão. Sabia que a medida poderia atrapalhar sua própria confirmação. Mas Gilmar não recuou. O recado estava dado: o STF não se submete mais a ninguém.
O curioso é que quem apresentou a ação original foi Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força. O mesmo que estava foragido, fugindo de oficial de justiça do STF. Teve condenação anulada pelos ministros e voltou para apresentar a ação que os blindou para sempre. Troca de favores explícita e descarada.
A reação desesperada do Congresso
A oposição reagiu apresentando PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para restaurar as regras originais. É a única forma de contornar a decisão judicial: mudando diretamente a Constituição. Teoricamente, o STF não poderia tornar inconstitucional uma emenda constitucional.
Mas Gilmar Mendes já sinalizou que considera a PEC “incabível”. Ameaçou declarar inconstitucional até mesmo emenda à Constituição. É o poder absoluto em ação: nem o constituinte derivado pode limitar o STF. Virou ditadura judicial explícita.
A PEC propõe que pedidos de impeachment com apoio de três quintos do Senado sejam automaticamente recebidos. Também restaura o direito de cidadãos comuns fazerem denúncias. São medidas básicas de democracia que viraram “golpe” na cabeça dos ministros.
O problema é que essa PEC pode nem ser votada. O STF pode proibir a tramitação antes mesmo da votação. É o judiciário impedindo o legislativo de legislar. A separação de poderes virou letra morta no Brasil.
O Brasil caminha para ditadura judicial
Alexandre de Moraes já se gabava que não existe judiciário mais poderoso que o brasileiro. Agora essa afirmação ganhou status oficial. O STF pode prender senadores, quebrar sigilos, travar CPIs e cancelar emendas. Em contrapartida, o Senado só pode fazer discurso e tomar café no intervalo.
É o desequilíbrio total entre os poderes. O Judiciário virou super-poder sem controle externo. Pode tudo, responde por nada. É exatamente o contrário do que os criadores da República imaginaram. James Madison deve estar se revirando no túmulo.
A decisão de Gilmar Mendes não foi jurídica, foi política. Calculada para proteger o grupo no poder antes das eleições de 2027. É a versão brasileira do auto-golpe: usar as instituições para se blindar contra as próprias instituições.
Enquanto isso, a mídia tradicional finge normalidade. A mesma imprensa que apoiou o STF contra Bolsonaro agora se cala diante do verdadeiro golpe. Preferem Nescau a admitir que criaram um monstro. A própria Globo noticiou como se fosse procedimento normal, não ruptura institucional.
O Brasil acordou em uma nova realidade: judiciário sem freios, legislativo castrado e imprensa omissa. É a receita perfeita para o autoritarismo. Não precisou de tanques nas ruas. Bastou uma canetada em dezembro para acabar com o pouco que restava de equilíbrio republicano.
A pergunta que fica é simples: se os próprios guardiões da Constituição a violam sem consequências, o que sobra da nossa democracia? A resposta pode estar mais próxima do que gostaríamos de admitir.